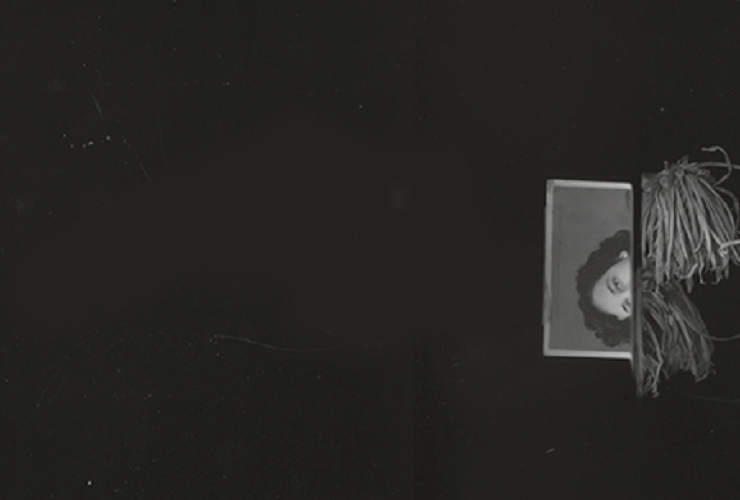Entre os personagens que lhe foram passados encontram-se o perfil de múltiplas mulheres. Figuras que em suas respectivas tramas dialogam com diferentes classes, estados civis e profissões. No entanto, basta as alinhar para perceber um mesmo fator comum: a sua raça. “Raras foram as vezes em que não fiz algum personagem descrito como negro. Eu faço personagens negras, sobretudo mulheres negras. Eu não faço simplesmente uma mulher”, diz Naruna Costa, cofundadora do Grupo Clariô de Teatro e atriz que interpretou Elza Soares na montagem Garrincha do diretor norte-americano Robert Wilson.
Seja ao viver uma professora em Hoje Eu Quero Voltar Sozinho ou uma humilde dona de casa em Hospital da Gente, Naruna assume cotidianamente o compromisso de compartilhar com cada personagem cenários e experiências pessoais. A verdade vista em produtos televisivos, a imagem deturpada de peças publicitárias e a falta de um rosto familiar em algum filme são realidades inevitáveis tanto para a mulher atriz quanto para a personagem descrita no roteiro.

“O que é uma mulher negra? Uma mulher pobre, uma funcionária, alguém que exerce uma posição inferior… De alguma forma sempre é a reprodução do estereótipo do que são os negros brasileiros”, afirma. Para ter uma ideia, ao analisar os meios televisivos é possível constatar que a população negra é representada apenas 4% em seus conteúdos. A estatística gerada por uma pesquisa feita pela mestre em Gestão de Mídia, Alexandra Loras, constatou a maior parte deste grupo como coadjuvantes de protagonistas brancos.
Para atrizes como Naruna Costa, ser mulher negra é muito mais do que resistir. É sobreviver a um sistema midiático imposto por grandes veículos há anos. É transformar sua pele negra em manto vital e, assim, transmutar palcos e telas para solos de denúncia e verdade. “Nosso maior desafio é esse, é falar todos os dias para si mesma: ‘eu sou capaz de continuar’. Tudo está para a desistência”. Entre falas secas é claro ver o suor de uma carreira, o peso natural do discurso mostra o quão sobrecarregada esta realidade esteve sobre si. No entanto, como em qualquer história, um lado positivo surge e transforma a cena até então composta: “Eu sinto que essa resistência é dolorida e difícil, mas ela tem outro lado que é a alegria de fazer o que eles lá não estão fazendo”.

A energia que pulsa e o sorriso que cativa são bagagens que Naruna carrega desde as brincadeiras de rua. Foi durante a sua infância em Taboão da Serra, cidade de São Paulo, que a garota enxergou a chance de criar uma história em cima dos palcos. “Eu sempre fui arteira e foi na minha pré-adolescência que eu descobri o teatro”. Sem nunca ter pisado em um auditório, a pequena amante de música enxergou o novo ali e, a partir desse momento, entende que aquele lugar é o passe para a sua liberdade. “Ali eu poderia fazer e ser o que quisesse”.
Diferente de outros colegas, Naruna não teve a chance de se encantar com a arte desde cedo. Aulas de interpretação, oficinas de desenho e idas a museus eram um mistério para atriz que não tinha noção do mundo que a esperava. “Eu não tinha acesso ao teatro. Não tinha acesso a música. Nunca tinha ido a um show, a um concerto ou a uma peça de teatro… foi ao ver pela primeira vez que eu falei: Caceta, isso existe? Então eu soube que isso era o que eu queria fazer”.

Nos antigos prédios da EAD (Escola de Arte Dramática ECA/USP), Naruna se aprofundou nas técnicas teatrais. Entre espetáculos e produções audiovisuais a jovem inspirou novos ares, e a cada passo observou o seu universo expandindo para horizontes que nunca imaginou um dia alcançar. “Uma vez que a gente sai do nosso ponto de partida, a gente dá conta de que o mundo onde a gente vive não é o mundo inteiro. Eu comecei a ter noção das coisas com o teatro porque foi ele que me levou para fora da minha aldeia, me dando a chance de a ver de fora”.
A compreensão de aldeia mudou com os anos, e logo as pequenas casas que se estendiam ruas a fora deixaram de ser limites para os seus questionamentos. A política pública da sua própria cidade nunca contribuiu para o alcance de seus objetivos. Taboão da Serra nunca investiu em políticas públicas, muito menos em espaços culturais. Incentivos a produções e pesquisas cênicas nunca foram aprovados, espaços para tais não existiam. A periferia mais uma vez era condicionada como espaço de não conhecimento, até o nascimento de um novo projeto independente.
No número 96 da rua Santa Luzia encontrava-se uma casa. Posicionada entre as divisas das duas cidades, o espaço era refúgio para famílias em períodos de enchente. Foi ao olhar para ela, em 2005, que a atriz decidiu arriscar-se em uma jornada artística e social, ao dar ao espaço não só a função de abrigo físico, mas também cultural. Assim nasce o Clariô.

“Quando fundei esse espaço se concretizou a ideia de uma arte que eu quero fazer. Uma arte que comunica, que tenta trazer questões e inquietudes de uma vida na periferia. A vida da mulher negra, do homem negro, da juventude negra“. Diferentes atividades culturais são realizadas desde a sua formação: saraus, oficinas, laboratórios e mostras. Junto a estes encontra-se a ação do Grupo Clariô, referência de militância negra de cultura periférica.
“Ele é o meu maior orgulho, muito mais do que qualquer novela das nove que eu irei fazer“, assume a mulher ao olhar as estruturas do local. Os grafites nas paredes, as máscaras de espetáculos e os figurinos antigos representam algo único a ela. O encanto de ver uma obra concluída é nítido, e é então que sutilmente percebe-se que, mesmo ao participar de diferentes projetos, Naruna Costa sempre estará junto ao seu lar.
Acompanhe o nosso encontro com a atriz no Espaço Clariô:
por Diogo Domingos.